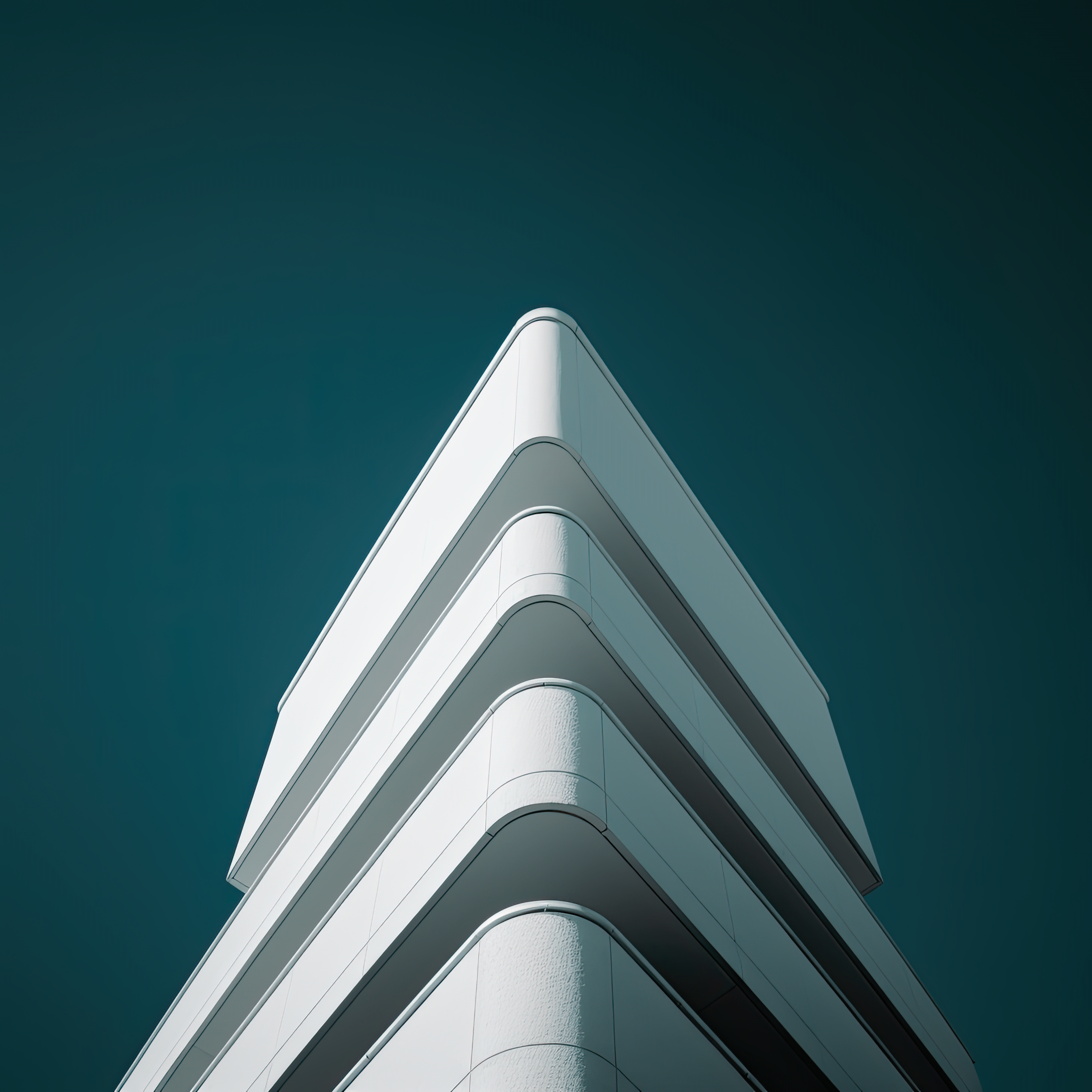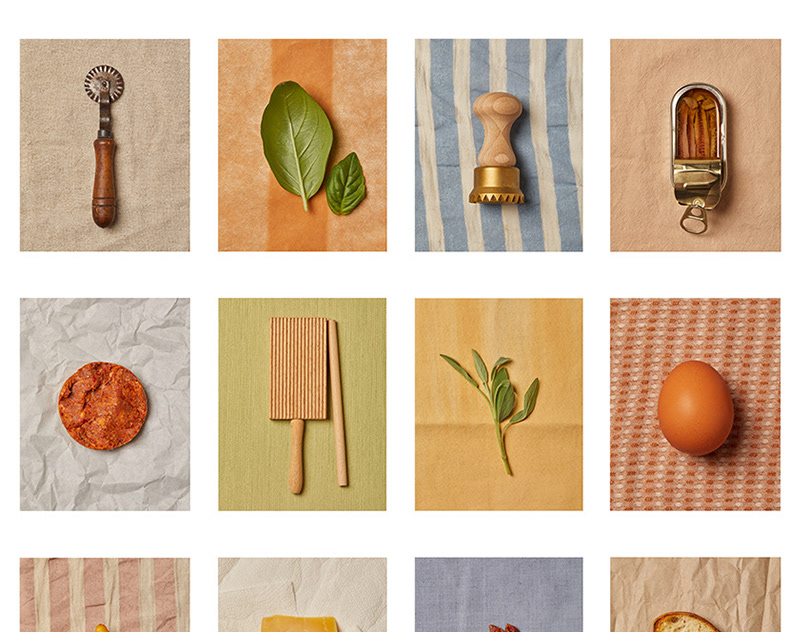São Paulo, BRASIL – 2021
O apito do guardinha
Vigilância urbana em cidades desiguais
Texto de Laura Belik
Outro dia em casa, já tarde da noite, ouço o apito do guarda. O som segue o mesmo roteiro há anos: começa num sopro longo, e acaba abruptamente com um toque mais agudo. Assim como o barulho da novela no último volume da senhora da casa ao lado, como o cachorro latindo no vizinho de trás, ou o portão automático do casal da frente... o apito noturno faz parte do ritual cotidiano da rua. Mais do que isso, um acordo tácito há tanto tempo instituído e que ouso questionar.
Foi então em uma pedalada noturna, passando por alguma outra rua do bairro, me deparei com um som agudo e contínuo. Era o guardinha de outro logradouro que mostrava serviço em sua ronda. Mas o apito era diferente, o som tinha a sua particularidade, seu diferencial. Me chamou a atenção. Desacostumada com os ritos da vigia alheia, o toque demarcando território fez notar sua presença.
O som provoca reações diversas aos seus ouvintes: ora protegidos, ora prisioneiros. Sabendo seu espaço neste pacto, o silêncio pode levar ao pânico. O papel daquele que apita beira as escalas do público e do privado. Sempre um olhar de fora, da rua, atento aos espaços de dentro, das casas. Um trabalho para um certo coletivo com fins individuais.
Um episódio conhecido relacionado aos sons da cidade e os pactos da convivência coletiva ocorreu na década de 1960 em Nova York: o caso do assassinato de Kitty Genovese. Diz a história que ao ser atacada, a jovem gritava por ajuda, e apesar de ouvirem os chamados, seus vizinhos não se preocuparam em socorrê-la. O caso ficou conhecido por trazer uma questão filosófica à tona, depois nomeada como o bystander effect, ou efeito apático. Com a presença de outros, a tendência individual é difundir ou negar responsabilidade. Neste caso, a contratação de um guardinha, como vemos em algumas das ruas de São Paulo, por um lado talvez tirasse a responsabilidade e a espera pela boa vontade do próximo. Por outro, talvez incriminasse justa ou injustamente um individuo servindo de bode-expiatório para um problema de todos.
Como contraponto aos efeitos do caso de Kitty Genovese, não posso deixar de mencionar a controversa proposta dos “olhos nas ruas”, difundida por Jane Jacobs também na década de 1960. De acordo com Jacobs, a movimentação nas ruas é essencial para segurança coletiva. A presença de pessoas em espaços públicos é um jeito de vigia mútua. Considerando esta tese, um espaço sem ninguém no entorno não garante cúmplices. Para Jacobs, vigiar a rua não é trabalho para um individuo apenas, mas para o coletivo.
A aparência física dos espaços também leva a outras confabulações sobre segurança urbana. Uma das mais famosas teorias da criminologia é a das “Janelas Quebradas”. De acordo com esta proposta, sinais visíveis de decadência, descuido e desordem (as janelas quebradas) podem encorajar o caos e o aumento de atividades criminosas. Como solução, essa teoria sugere que o foco das ações policiais deva ser em crimes menores do dia-a-dia da cidade, o que garantiria uma atmosfera mais segura, e assim conteria maiores atos de violência. Das diversas interpretações das “Janelas Quebradas”, uma sobressai: a agressiva e racialmente discriminatória política do “Stop-and-frisk” (pare-e-reviste) criada na gestão de Rudy Giuliani (1994-2001), então prefeito de Nova York. Politica que continuou a ser largamente utilizada e se consolidou na gestão subsequente, de Michael Bloomberg (2002-2013).
A conhecida discussão trazida por Michel Foucault sobre o panóptico (1), uma torre de controle onde o suposto sentinela tudo vê, mas cuja presença nunca é confirmada, leva à ordem pelo olhar oculto e ilusão do patrulhamento. Seguindo esta lógica, soluções como a presença das UPPs nas comunidades do Rio de Janeiro ou mesmo a construção de bibliotecas e programas públicos nos morros de Medellín, na Colômbia, são justificadas como mecanismos de segurança para ajudar uma população em risco agora supostamente amparada. Estes pontos de vigia, ao mesmo tempo, também fortalecem um contexto de guerra territorial e disputa por poder. A guarita do guardinha e seu apito, da mesma forma, demarcam presença, e controlam o cotidiano da rua, como muito bem colocado pelo diretor Kleber Mendonça Filho em “O Som ao Redor” (2012). A vigilância dos olhares vizinhos, dos contratados terceirizados, e mesmo da guarda municipal não tornam necessariamente a cidade menos violenta. Muito pelo contrário, como mostram os tantos casos de agressão e abuso de autoridade de membros da policia contra civis no Brasil e no mundo.
O recente caso do desaparecimento e homicídio da jovem Sarah Everard, em Londres, por um policial metropolitano reacendeu uma discussão crescente e há muito tempo cotidiana – agora no topo da pauta na mídia e nas redes sociais – a questão da segurança de mulheres andando sozinhas à noite pelas ruas. “Me avisa quando chegar em casa”, frase corriqueira na vida de todas, ganha contornos de bandeira na luta por igualdade e respeito, mas também de emblema do medo que muitas vezes limita a independência feminina.
Segurança das ruas e nas ruas não se resume a uma questão espacial, mas uma teia maior referente à organização desigual da sociedade. Esta relação de retroalimentação ao mesmo tempo se reflete no espaço urbano, e é um reflexo do que acontece nas ruas. A violência urbana também traz perguntas maiores sobre quem faz parte deste “coletivo” que deve ser protegido.
O que torna então, a rua um espaço seguro? Certamente devemos olhar para este problema considerando uma escala mais ampla da formação social, politica e econômica da cidade. Temos que considerar a escala da desigualdade – de renda, de classe, de gênero, de raça – em que são criadas e se criam os nossos espaços urbanos. Precisamos entender o que está por traz da melodia do apito do guardinha.